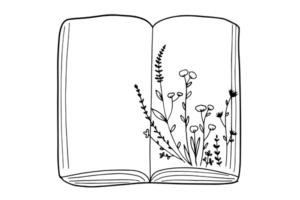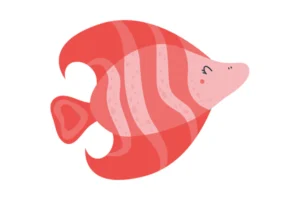“O corpo não mente. Ele fala a linguagem da verdade e do desejo. Ele dança os afetos, anuncia os medos, revela os vínculos.” (Suzana Macedo Soares)
Uma escuta para além das palavras
No universo da educação da infância, há algo que pulsa para além das palavras e das prescrições. Há um saber que se move em gestos, que se comunica em silêncios partilhados, que se constitui na dança cotidiana entre corpos que se afetam. É neste chão sensível que Suzana Macedo Soares finca sua escrita, no livro Vínculo, Movimento e Autonomia. Sua obra não é apenas uma reflexão teórica sobre o desenvolvimento infantil – é uma travessia ética, poética e política pela escuta do corpo, pelo respeito à singularidade da criança e pelo convite à presença afetiva do adulto cuidador.
Suzana nos convida a desautomatizar o olhar sobre os corpos infantis. Ela nos propõe um outro modo de ver, escutar e estar com a criança – um modo que reconhece o corpo como sujeito de linguagem, de criação e de autonomia. É um livro que faz do cotidiano com as crianças um lugar de revelação e aprendizado, não de controle.
A tessitura do vínculo: o corpo como campo relacional
No início do livro, Suzana tece a noção de vínculo como experiência fundante da existência. O vínculo, para ela, não é apenas uma relação afetiva entre cuidador e criança, mas a base estruturante do sentir, do mover-se, do estar-no-mundo. Quando nasce, o bebê humano é pura potência relacional – ele depende do outro não apenas para sobreviver, mas para se constituir como sujeito.
O vínculo não se estabelece, porém, de forma automática. Ele é construído por meio da escuta sensível, da repetição ritmada, do toque respeitoso, do olhar que sustenta. O adulto que cuida está ali não para modelar a criança, mas para acolher sua inteireza. Suzana aponta que a qualidade deste vínculo inicial repercute diretamente na constituição da autonomia da criança. Quanto mais segura a criança se sente nesse primeiro ambiente relacional, mais livre ela será para explorar o mundo, para mover-se com confiança, para se autorizar a ser.
No entanto, este vínculo não é feito apenas de afeto. Ele também se dá por meio do corpo – do modo como pegamos a criança no colo, da atenção que damos aos seus gestos, da escuta dos seus choros, da forma como respeitamos seu tempo. É uma pedagogia do corpo que se aprende com o cotidiano, com o chão da creche, com os encontros.
Movimento: o corpo que narra
O movimento é outra categoria fundamental no livro. Mas não se trata apenas do movimento físico, mecânico – e sim do movimento como linguagem, como possibilidade de expressão e de construção de mundo. A criança pequena não fala com palavras, mas fala com o corpo. Quando se arrasta, quando engatinha, quando gira sobre si, ela está narrando algo de si ao mundo.
Suzana nos convida a considerar o movimento não como algo a ser corrigido ou controlado, mas como território de liberdade. O corpo da criança não é um corpo “a ser moldado”, mas um corpo que pensa, sente, decide, deseja. Há uma inteligência do corpo que não se curva à lógica disciplinar da escola tradicional. Ao invés de impormos um ritmo, cabe ao adulto reconhecer o ritmo da criança.
Ela critica a normatização dos corpos infantis que ocorre, muitas vezes, nas instituições educativas: a exigência precoce por posturas eretas, o treino apressado do andar, a rigidez das rotinas que impedem o brincar livre. Ao fazer isso, diz a autora, interrompemos processos naturais de desenvolvimento e ferimos a escuta do próprio corpo.
O que está em jogo, aqui, é uma ética do cuidado. Respeitar o movimento da criança é confiar em sua competência, em sua potência de desenvolvimento. É não se apressar. É oferecer um ambiente estético, convidativo, provocador, mas nunca invasivo.
Autonomia: quando o corpo se autoriza
A terceira noção que estrutura o livro é a autonomia – palavra tão repetida nos discursos pedagógicos, mas muitas vezes mal compreendida. Autonomia, para Suzana, não é independência precoce nem uma forma de responsabilizar a criança por processos que ainda exigem o adulto como apoio. Autonomia é uma conquista relacional, e não uma imposição.
A criança só pode se tornar autônoma se experimenta, no início da vida, uma profunda segurança nos vínculos. É o vínculo que sustenta o movimento. É o movimento que prepara a autonomia. E essa autonomia se dá no corpo: quando a criança decide qual brinquedo pegar, quando ela aprende a se deslocar, quando ela explora sem medo, quando ela diz “não” com firmeza.
Nas instituições de Educação Infantil, promover a autonomia não é deixar a criança “sozinha”, mas criar condições para que ela possa fazer escolhas, se movimentar com liberdade, expressar seus desejos e ser respeitada em sua subjetividade.
Autonomia é também uma questão política. Quando reconhecemos a criança como sujeito de direitos, estamos assumindo que ela é capaz de participar, de decidir, de ser escutada. E isso começa nos pequenos gestos: permitir que a criança escolha sua roupa, que ela coma no seu ritmo, que ela explore o ambiente com segurança e confiança.
Uma pedagogia do corpo sensível
O grande mérito do livro Vínculo, Movimento e Autonomia está em construir uma pedagogia que parte do corpo, mas que não se encerra nele. O corpo, aqui, é atravessado por afetos, histórias, contextos sociais. É corpo situado, corpo vivido, corpo que sente. E é também corpo de resistência.
Suzana Soares escreve com a delicadeza de quem viveu o cotidiano das creches, mas também com a firmeza de quem defende uma infância digna. Sua escrita é sensível, mas nunca ingênua. Ela sabe que cuidar da criança pequena é também lutar por condições sociais e institucionais que respeitem seus tempos, seus espaços e seus corpos.
Por isso, ela defende a importância de ambientes preparados com intenção estética, de tempos desacelerados, de adultos disponíveis e afetuosos. Um ambiente que promova vínculo, que acolha o movimento e que sustente a autonomia é um ambiente onde a infância pode florescer inteira.
Contribuições para educadores e educadoras
Para nós, que atuamos na Educação Infantil, o livro de Suzana Macedo Soares é mais do que uma referência teórica – é um convite à reinvenção do olhar. É uma convocação ética para educar com presença, com escuta e com sensibilidade. Algumas implicações práticas de sua obra incluem:
- Repensar as rotinas: abrir espaços de tempo e liberdade para que a criança brinque, explore e se movimente livremente, sem pressões ou cronogramas rígidos.
- Cuidar do ambiente: organizar os espaços da instituição como territórios de acolhimento estético, com materiais que convidem à curiosidade e ao movimento espontâneo.
- Praticar uma escuta corporal: observar os gestos da criança, seu ritmo, seus silêncios, seus modos de comunicar-se para além da linguagem verbal.
- Ser um adulto disponível: estar presente de corpo inteiro nas interações, respeitando o tempo da criança, acolhendo suas emoções e oferecendo segurança.
- Respeitar o desejo e o não: reconhecer que dizer “não” é também um exercício de autonomia e deve ser escutado com seriedade e respeito.
Vínculo, movimento e autonomia como poética política
A obra de Suzana Macedo Soares não oferece receitas. Ela oferece caminhos. E esses caminhos são delicados, porque exigem do educador um mergulho na própria prática. Exigem tempo, escuta, humildade. Exigem também coragem para romper com modelos prontos e confiar no que emerge do encontro com a criança.
Neste sentido, o livro nos provoca a pensar a educação como uma poética política: um modo de estar no mundo que se constrói na relação com o outro, que aposta no corpo como território de criação e que reconhece a infância como potência de transformação.
Quando cuidamos com presença, quando educamos com o corpo inteiro, quando confiamos nos gestos da criança, estamos fazendo mais do que ensinar – estamos escutando a vida. E a vida, em sua essência, é movimento, é vínculo, é liberdade.
A presença como ato político e poético
No cerne da obra de Suzana Macedo Soares, há uma premissa silenciosa, mas absolutamente revolucionária: estar com a criança é, antes de tudo, um ato de presença. E essa presença, quando consciente e inteira, é profundamente política e poética.
Presença política: educar é tomar posição
Em tempos de produtividade exacerbada, onde a infância é frequentemente submetida a lógicas de adestramento e aceleração, optar por estar com a criança no tempo dela, no chão das pequenas descobertas, é um gesto político. É remar contra a corrente que desumaniza o cuidado e transforma o corpo infantil em mero objeto de avaliação, de desempenho, de normalização.
Suzana Soares convoca educadores a essa escolha: estar presente com o corpo todo, com a escuta aberta, com a disponibilidade afetiva. Ela nos lembra que, para uma criança pequena, a qualidade da presença do adulto é estruturante. Não se trata apenas de estar fisicamente por perto, mas de estar por inteiro: atento ao gesto, ao olhar, ao choro, ao silêncio.
Essa presença não é neutra. Ela toma partido pela infância como tempo legítimo, como espaço de potência. Quando o educador se faz presença sensível, ele afirma o direito da criança de ser acolhida em sua inteireza. Ele resiste à lógica da homogeneização. Ele afirma que cada corpo tem sua dança, cada afeto seu tempo, cada gesto sua linguagem.
Estar presente, então, é sustentar um modo de educar que reconhece a criança como sujeito de direitos, como corpo que pensa, deseja e sente. É recusar práticas que silenciam a singularidade e naturalizam a violência institucional. É cultivar um cotidiano em que o vínculo e a escuta são os pilares do aprender.
Presença poética: educar é criar espaço para a beleza
Se educar é, ao mesmo tempo, um ato político, é também um ato poético. E não se trata aqui da poesia das palavras, mas da poesia dos gestos, da leveza, da delicadeza que habita o cotidiano quando abrimos os olhos para ela.
Suzana Soares nos ajuda a perceber que o educador também é artista do cotidiano. A maneira como ele acolhe um choro, como oferece o colo, como espera o tempo da criança levantar sozinha, como organiza o espaço para o brincar – tudo isso é gesto poético, cuidado, intenção, atenção.
A presença poética se dá no detalhe: no modo como o adulto se abaixa ao falar com a criança; no silêncio que acolhe o que ainda não foi dito; no respeito por um corpo que diz “não” com o olhar. É no modo como se toca um braço, como se acompanha o movimento, como se compartilha um pão.
Essa poesia do cotidiano não pode ser fabricada. Ela nasce do vínculo, da escuta, do desejo genuíno de estar com. E é por isso que ela transforma. Um educador que sustenta essa presença poética não ensina apenas com palavras – ele ensina com o corpo, com o tempo, com o afeto.
Quando Suzana escreve sobre o vínculo e o movimento, ela está também falando sobre isso: sobre uma maneira de estar junto que gera beleza, que cuida da dignidade do outro, que resgata o valor das pequenas coisas. A presença poética nos reconecta à essência da educação como arte relacional.
Poética e política se entrelaçam
Na perspectiva de Vínculo, Movimento e Autonomia, a presença política e a poética não se opõem – elas se entrelaçam. Uma sustenta a outra. A delicadeza, aqui, não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário: ela exige coragem. A coragem de desacelerar, de não saber, de confiar na criança, de sustentar o silêncio.
Ser educador, nesta perspectiva, é agir politicamente ao escolher a escuta como fundamento. É criar condições para que cada criança possa se desenvolver respeitando seu próprio ritmo, e não o ritmo imposto pelos sistemas. É dizer: “eu vejo você”, quando tudo ao redor quer invisibilizar.
É também agir poeticamente ao cultivar o cuidado como gesto criador. Ao transformar a rotina em rito, o toque em linguagem, o tempo em afeto. É construir com as crianças uma pedagogia que não se mede em metas, mas se reconhece em vínculos.
Uma presença que reverbera
Quando um educador ou educadora se coloca nesse lugar de presença – política e poética – algo muda. Muda no ambiente, muda nas crianças, muda nele mesmo. A sala se transforma em espaço de encontro. O cotidiano, em território de criação. A relação, em solo fértil para a construção de autonomia verdadeira.
E essa presença reverbera. Ela é percebida pelas crianças, que se sentem vistas, respeitadas, autorizadas a ser. Ela é sentida nos corpos, que se movem com mais confiança, que ousam explorar. Ela é transmitida na escuta, que se torna mais atenta, mais sensível.
Como nos lembra a autora, a educação é uma dança entre o adulto e a criança. Para dançar bem, é preciso escutar o ritmo do outro, saber quando conduzir e quando seguir, respeitar os passos que ainda estão sendo aprendidos. A presença do educador é, então, o compasso dessa dança.