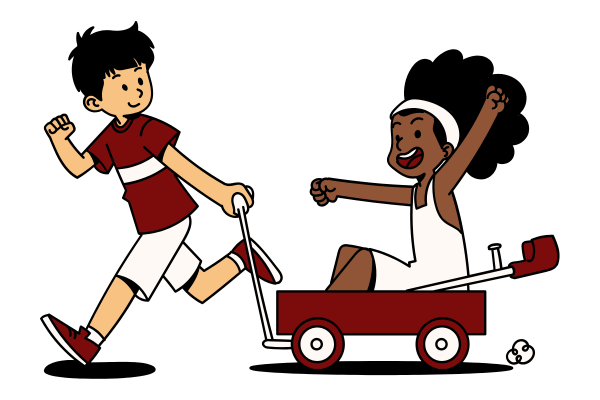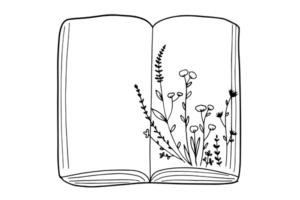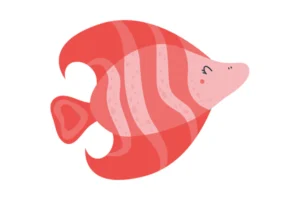Há gestos que revelam o coração da infância. O brincar é um deles. Quando uma criança corre atrás da outra, quando inventa papéis para um jogo de faz-de-conta, quando compartilha brinquedos improvisados com pedrinhas, paus ou panos, ela está, ao mesmo tempo, descobrindo o mundo e tecendo vínculos.
Na escola da infância, brincar e interagir não são apenas atividades: são linguagens fundadoras, modos de ser no mundo que a criança traz consigo e que precisam ser reconhecidos e valorizados pelos educadores. É nesse horizonte que o pensamento de Maria da Graça Souza Horn se torna tão fecundo para compreendermos a centralidade do brincar e das interações no cotidiano escolar.
A poética do brincar segundo Maria da Graça Souza Horn
Horn nos convida a olhar o brincar como experiência constitutiva da infância. Para ela, o brincar não é mero passatempo, nem preparação para aprendizagens futuras. É um direito da criança e uma forma de cultura. Brincar é criar mundos possíveis, experimentar papéis, lidar com emoções, negociar com os pares.
Em sua obra, Horn lembra que a escola precisa assumir o brincar como eixo estruturante da prática pedagógica, pois é nele que a criança pensa, sente e age de forma integrada. Mais que entretenimento, o brincar é uma maneira de existir no tempo presente.
Interações como lugar de aprendizagem
Outro eixo fundamental em Horn é a importância das interações. As crianças aprendem com e através das outras crianças. O encontro, o conflito, a parceria, a negociação e até o silêncio compartilhado são modos de construir saberes.
A escola da infância, portanto, precisa favorecer ambientes onde as interações aconteçam de maneira livre, respeitosa e criativa. Quando duas crianças se juntam para empilhar blocos, estão desenvolvendo raciocínio espacial, linguagem, coordenação motora e, sobretudo, aprendendo a lidar com o outro.
Horn destaca que as interações não podem ser vistas como “momentos secundários”, mas como territórios pedagógicos em si mesmos. A socialização não é preparação para a vida adulta; é vida em ato.
Territórios de brincar: o ambiente como parceiro
Seguindo a perspectiva de Horn, o ambiente da escola é parte essencial dessa rede de brincar e interagir. Os espaços precisam ser abertos, flexíveis, acolhedores, de modo que favoreçam tanto o jogo livre quanto o coletivo.
- Um canto com tecidos pode virar cabana, palco, esconderijo.
- Uma caixa com elementos da natureza pode despertar explorações sensoriais e simbólicas.
- Um espaço externo com areia e água pode se transformar em laboratório de experimentações.
A organização estética do ambiente comunica à criança se ela é bem-vinda para inventar. Um espaço rígido, cheio de proibições, silencia a infância; um espaço aberto e provocador a encoraja a criar.
Brincar como linguagem de cultura
Horn dialoga com a ideia de que a criança é produtora de cultura. Ao brincar, ela reinventa tradições, cria novas narrativas, ressignifica objetos. O brincar é, portanto, lugar de autoria infantil.
Quando as crianças transformam uma cadeira em carro, estão operando simbolicamente sobre o mundo. Quando inventam regras próprias para um jogo de pega-pega, estão produzindo cultura lúdica. Essas invenções revelam não apenas imaginação, mas capacidade de elaborar sentidos para a vida.
O papel do educador
Nessa perspectiva, o educador não é mero espectador, tampouco controlador do brincar. Ele é mediador sensível: observa, registra, intervém quando necessário para ampliar as possibilidades da experiência, mas também sabe se retirar para deixar a potência infantil acontecer.
A escuta atenta é a ferramenta principal. O educador que escuta percebe quando a criança precisa de apoio para incluir um colega na brincadeira, quando deseja silêncio para mergulhar na imaginação, ou quando pede ajuda para resolver um conflito.
Narrativas do brincar e interagir
Os registros docentes tornam-se preciosos para visibilizar a riqueza do brincar e das interações:
- Registro 1: “Duas meninas construíram uma cabana com tecidos. Logo chegaram outras, e cada uma queria ser a dona da casa. Negociaram papéis, discutiram, riram. Ao final, todas entraram juntas, cantando. O conflito se transformou em cooperação.”
- Registro 2: “Um bebê, sentado no tapete, observava atentamente os colegas correndo. De repente, bateu palmas, como se participasse à sua maneira. O educador percebeu e se aproximou, encorajando-o a se arrastar até o grupo. O gesto de palmas foi sua porta de entrada na interação.”
Essas narrativas nos lembram que brincar e interagir não se separam: são movimentos que se entrelaçam e se sustentam mutuamente.
Desafios contemporâneos
Horn também alerta para os desafios que a escola enfrenta ao assumir o brincar e a interação como centrais. A pressão por resultados imediatos, a antecipação de conteúdos formais e o excesso de rotinas rígidas muitas vezes sufocam o tempo lúdico.
Quando a rotina engessa a vida: a problemática das rotinas rígidas na escola da infância
As rotinas são necessárias. Elas oferecem previsibilidade, segurança, um fio que organiza o tempo da criança em meio às múltiplas descobertas que o cotidiano escolar propicia. No entanto, como lembra Maria da Graça Souza Horn, é preciso distinguir rotina de engessamento. A rotina é uma cadência que acolhe; o engessamento é uma prisão que sufoca.
Em muitas escolas da infância, o tempo ainda é marcado por horários inflexíveis, que pouco consideram a fluidez do brincar, a intensidade dos encontros entre crianças e a riqueza dos processos que se estendem para além do planejado. A criança que está profundamente envolvida em uma brincadeira de casinha ou explorando minuciosamente uma concha encontrada no pátio pode ser abruptamente interrompida pela chamada para o lanche ou para a roda ou pelo toque que indica “hora de guardar”.
Esse modelo de rotina rígida revela uma concepção de infância muitas vezes centrada no controle, no medo do caos, na necessidade adulta de administrar o tempo de forma produtivista. Horn alerta para o perigo de uma escola que organiza o tempo da criança de acordo com as demandas adultas, esquecendo-se de que o ritmo infantil é outro — marcado pela curiosidade, pela pausa, pela experimentação e pela lentidão que tantas vezes é criadora.
A tensão entre ordem e liberdade
É claro que o caos total não contribui para o bem-estar. Crianças precisam de referências claras: saber que haverá um momento de alimentação, de descanso, de partilha. A questão não é abolir a rotina, mas ressignificá-la. Rotina não é sinônimo de rigidez; pode ser compreendida como um esqueleto flexível que se ajusta às descobertas e necessidades do grupo.
A escola que insiste em manter todos os corpos sentados ao mesmo tempo, que não permite que uma criança durma quando o sono chega ou que limita a exploração do espaço a apenas alguns minutos por dia, perde a oportunidade de estar realmente em sintonia com o modo como as crianças vivem.
O impacto no brincar e na interação
Quando a rotina é rígida, o brincar perde sua potência. A imaginação, que precisa de tempo para se expandir, é constantemente interrompida. As interações, que se constroem no fio da experiência compartilhada, não encontram espaço para amadurecer.
Quantos diálogos entre crianças não foram cortados pelo “hora de guardar”? Quantas descobertas coletivas não foram interrompidas por um cronômetro invisível que pauta o tempo escolar? A rotina rígida transforma o dia em uma sequência de tarefas a cumprir, quando poderia ser uma tessitura de experiências a viver.
Maria da Graça Horn insiste: o espaço e o tempo são pedagógicos. Eles educam tanto quanto as palavras do professor. Uma rotina que sufoca ensina controle e submissão; uma rotina que acolhe ensina respeito, autonomia e cooperação.
Caminhos de ressignificação
Ressignificar a rotina significa escutar a criança em sua inteireza. Isso implica permitir que o tempo do brincar seja mais longo, que as transições sejam suaves e negociadas, que os projetos nascidos do interesse das crianças encontrem espaço real na organização do dia.
Algumas práticas possíveis:
- Rotinas maleáveis, que indicam momentos (brincar, lanche, roda) mas permitem variação no tempo conforme o envolvimento das crianças.
- Transições cuidadosas, em que o adulto dá sinais de que algo vai mudar, convidando as crianças a se organizarem, sem brusquidão.
- Atenção ao ritmo do grupo, entendendo que há dias de maior energia e dias de maior recolhimento.
- Integração entre momentos, em que brincar, cuidar e aprender não são compartimentos estanques, mas fios que se entrelaçam no dia.
O papel do educador
O educador é guardião do tempo da infância. Ele não deve ser um vigia de relógios, mas um tecelão de experiências. O desafio é equilibrar organização e abertura, segurança e liberdade, rotina e vida. Para isso, é preciso coragem de deslocar-se da lógica do controle e confiança na potência das crianças.
Paulo Freire nos lembra que educar é sempre um ato político. Escolher uma rotina flexível e sensível é também uma escolha política, que afirma a criança como sujeito de direitos e como protagonista de sua aprendizagem.
Vivemos em uma sociedade que valoriza a produtividade e a eficiência, esquecendo-se da lentidão necessária da infância. É nesse cenário que o brincar aparece como resistência poética: defender o direito de brincar é defender o direito de ser criança em sua inteireza.
Brincar e interagir como ato político e poético
Ao abraçar o brincar e as interações como eixos da prática, a escola afirma uma escolha ética e política: a de confiar na infância. Mais do que preparar para o futuro, ela se compromete a viver com as crianças o presente.
E aqui está a dimensão poética: brincar é criar mundos possíveis, interagir é compartilhar mundos. Quando a escola valoriza esses movimentos, abre-se para ser território de vida, e não apenas de ensino.
Brincar é viver em comunidade
O pensamento de Maria da Graça Souza Horn nos conduz a reconhecer que brincar e interagir não são atividades complementares, mas fundamentos da pedagogia da infância. Eles são os modos pelos quais a criança explora, sente, pensa, inventa, convive.
Na escola que escuta Horn, o brincar é respeitado como direito, e as interações são valorizadas como aprendizagens em si. O ambiente é cuidado como território estético, e o educador se torna guardião da potência infantil.
Assim, cada roda de brincadeira, cada cabana improvisada, cada corrida no pátio são atos de vida, sementes de democracia, experiências de comunidade. E a docência, nesse cenário, se revela como presença poética: um estar-com que reconhece na infância não uma preparação para amanhã, mas uma plenitude que já pulsa no hoje.